Nomear para estigmatizar: uma reflexão à luz de Goffman

(Créditos fotográficos: Nick Bolton – Unsplash)
A intervenção de André Ventura na Assembleia da República, ao enunciar uma lista de nomes próprios atribuídos a crianças imigrantes em escolas públicas portuguesas, constitui mais do que uma mera provocação parlamentar: trata-se de um gesto simbólico de elevada densidade política e social, cuja análise adquire especial relevância à luz da teoria do estigma, tal como formulada por Erving Goffman. Ao invocar nomes associados, quase exclusivamente, a culturas e religiões muçulmanas ou semitas – omitindo nacionalidades como a brasileira ou a britânica, maioritárias no universo migrante em Portugal –, Ventura não apenas projeta uma alteridade ameaçadora, como inscreve sobre essas identidades um rótulo socialmente desqualificador.
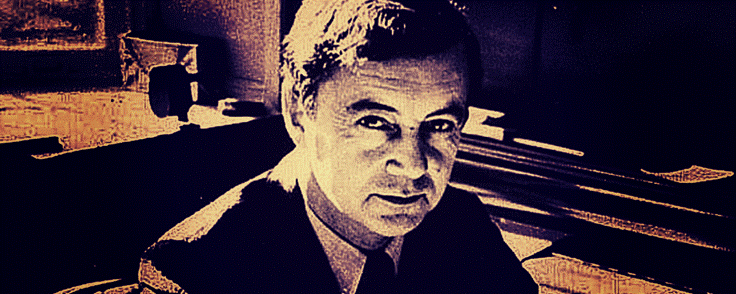
Na sua obra seminal “Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada” (de 1963), Goffman define o estigma como um atributo que desacredita profundamente o sujeito. Que o transfere de uma condição plena de cidadania para uma posição social diminuída e rejeitada. Ao serem publicamente enunciados no hemiciclo, os nomes em questão deixam de remeter apenas a pessoas individuais: passam a funcionar como signos identitários marcados pela suspeita, codificados como desviantes relativamente à norma cultural implícita – eurocêntrica, branca, cristã. A performatividade simbólica deste gesto adquire uma gravidade acrescida por ocorrer no seio de uma instituição que deveria corporizar os princípios da igualdade democrática e da representação plural. O Parlamento, ao ser instrumentalizado para fins de segregação simbólica, vê comprometida a sua função essencial de inclusão e universalização da cidadania. A nomeação, neste contexto, constitui um mecanismo de fronteira simbólica entre o “nós” e o “eles”, entre os “portugueses normais” – na linguagem do próprio Ventura – e os outros racializados, culturalmente distintos, cuja simples presença é recodificada como disfuncional ou indesejável.
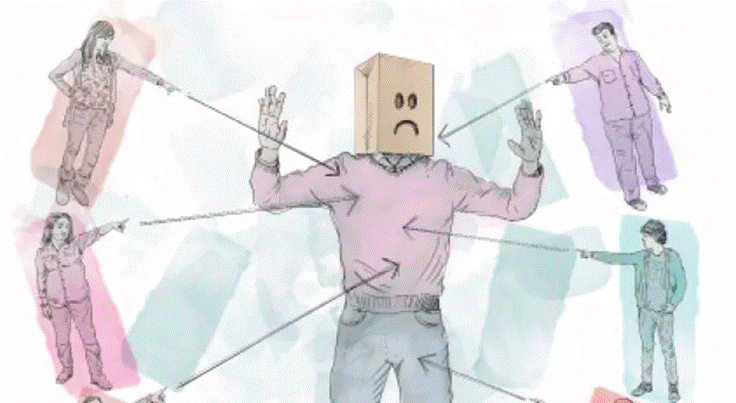
Esta lógica de atribuição de identidade estigmatizante atinge um novo patamar de gravidade quando transposta para o ecossistema digital, através de uma publicação de Rita Matias. Ao divulgar nas redes sociais os mesmos nomes, agora acompanhados de apelidos, é revelada uma articulação consciente e maléfica: no Parlamento, dentro dos limites formais da Constituição, são apenas mencionados os nomes próprios; nas redes sociais, um espaço puramente desregulado e livre de quaisquer filtros legais, a nomeação estende-se aos apelidos. Com isso, não só se transgridem, de forma inequívoca, os princípios de proteção de dados pessoais, como se acentua e perpetua o processo de estigmatização. Uma exposição simbólica que, nas redes sociais, adquire uma natureza potencialmente irreversível: é replicável, comentável, viralizável. Os nomes, enquanto signos identitários, tornam-se alvos permanentes de escrutínio, de chacota ou de discriminação – e as crianças que os carregam, mesmo sem consciência do processo, tornam-se sujeitos de uma identidade social deteriorada, conforme a tipologia de Goffman.

O caso em apreço ilustra, de forma paradigmática, a eficácia simbólica dos atos de nomeação enquanto dispositivos de estigmatização. Ao evocar publicamente nomes que carregam uma alteridade cultural previamente codificada, os atores políticos em causa produzem aquilo que Goffman designa como uma identidade negativa atribuída – uma forma de classificação social que desencadeia, por um lado, perceções estereotipadas e, por outro, estratégias defensivas de gestão da identidade por parte dos visados. Mesmo no caso de crianças, cuja consciência social ainda se encontra em formação, os efeitos do estigma não deixam de se projetar: institucionalizam-se e reproduzem-se nas interações, nos olhares, nas expectativas sociais.
É essencial reconhecer que este tipo de prática discursiva, tecnicamente conforme à legalidade formal em ambos os espaços, não deixa de colidir frontalmente com os fundamentos normativos da democracia. Em causa não está apenas o conteúdo de um discurso ou o seguimento de uma regra, mas o modelo de convivência que este ato enuncia e promove. Quando o nome de alguém é transformado em instrumento de exclusão simbólica, assiste-se a uma corrosão insidiosa dos alicerces do reconhecimento mútuo e da coesão social. Num gesto aparentemente banal, inscreve-se uma ameaça profunda: a de uma sociedade que não receia nomear para estigmatizar, instituir medo e erigir fronteiras morais entre os cidadãos.
.
………………………….
.
Nota do Director:
O jornal sinalAberto, embora assuma a responsabilidade de emitir opinião própria, de acordo com o respectivo Estatuto Editorial, ao pretender também assegurar a possibilidade de expressão e o confronto de diversas correntes de opinião, declina qualquer responsabilidade editorial pelo conteúdo dos seus artigos de autor.
.
10/07/2025


